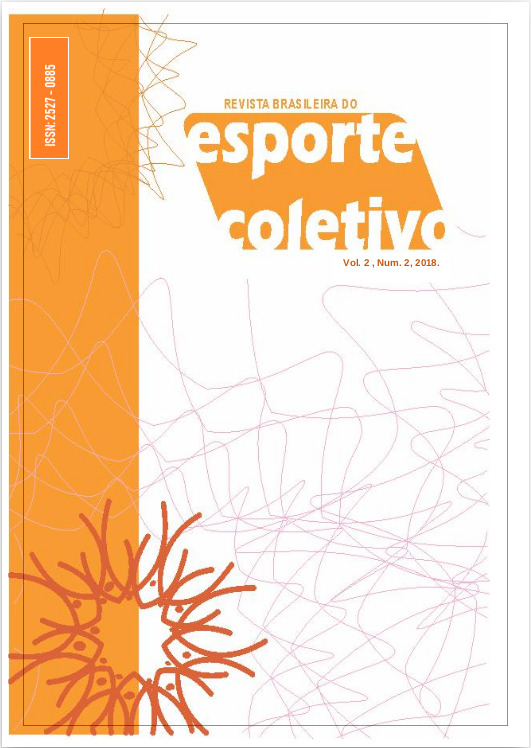ATAQUES REALIZADOS NA ZONA DE DEFESA TÊM EFEITO SEMELHANTE ÀS AÇÕES OFENSIVAS NA ZONA DE ATAQUE NO VOLEIBOL FEMININO?
DOI:
https://doi.org/10.51359/2527-0885.2018.238024Abstract
A área de jogo pode ser dividida em zona ofensiva e zona defensiva, no entanto, os atacantes que ocupam a zona defensiva também podem realizar ataques, desde que observadas às regras do jogo. Objetivo: Verificar a associação das ações de defesa em relação aos ataques realizados nas zonas ofensivas e defensivas. Método: Trata-se de um estudo transversal, realizado com oito equipes participantes da Superliga Feminina de Voleibol 2009/2010. Ao total, analisou-se 14 jogos, considerando as ações de ataque e defesa (423 ações). Os critérios utilizados para construção do scout do desempenho técnico- tático foi adaptado de Eom e Schutz (1992), levando em conta a área de ação de ataque para com ação subsequente da defesa. Desta forma, para a defesa, utilizou-se uma escala de quatro pontos, variando de 0 a 4, sendo 0 erro e 4 perfeição. Utilizaram-se as frequências relativa e absoluta para apresentação das variáveis zona de ataque e ação da defesa. Com o intuito de verificar a associação entre as ações ofensivas com a defesa, utilizou-se o teste de Qui-quadrado, com correção de Monte Carlos. Os dados foram analisados por meio do software SPSS, versão 20.0. Resultados: A maior frequência das ações ofensivas foi realizada por jogadores na zona de ataque (92,2%). A zona de 2 ataque mostrou-se associada à defesa (X = 11,817; p= 0,019). Desta forma, ataque realizado por atletas da zona de defesa associou-se positivamente à defesa de escore “4” (2,8), e negativamente ao escore “0” (-2,5). Já os ataques realizados por atletas pela zona ofensiva associaram-se de forma inversa, sendo positiva, com o escore “0” (2,5) e negativa com escore “4” (-2,8). Conclusão: Os ataques realizados da zona ofensiva possuem um melhor desempenho, visto que gera mais erros de defesa e menos ações de contra-ataque para o time adversário.Riferimenti bibliografici
AFONSO, J. et al. Tactical determinants of setting zone in elite nen’s volleyball. Journal of Sports
Science and Medicine, v. 11, p. 64–70, 2012.
COLEMAN, J. Avaliando os adversários e avaliando o desempenho da equipe. In: SHONDELL, D.;
REYNAUD, C. (Org.). A biblía do treinador de voleibol. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 315-338.
CASTRO, J. M.; MESQUITA, I. Estudo das implicações do espaço ofensivo nas características ataque no
voleibol masculino de elite. Revista Portuguesa de Ciências de Desporto, v. 8, n. 1, p. 114-125, 2008.
COSTA, G. et al. Relação saque , recepção e ataque no voleibol juvenil masculino. Motriz, v. 17, n. 1, p.
–18, 2011.
COSTA, G. D. C. et al. Análise das estruturas do complexo I à luz do resultado do set no voleibol
feminino. Motricidade, v. 10, n. 3, p. 40–49, 2014.
COSTA, G. D. C. Tactic determinants of game practiced by middle attacker in men’s volleyball. Revista
Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v. 18, n. 3, p. 371-79, 2016.
COSTA, Y. P. et al. Ações de levantamento: indicadores de rendimento no voleibol escolar. Revista
Brasileira de Esportes Coletivos, v. 1, n. 2, p. 4–9, 2017.
COSTA, Y. P.; BATISTA, G. R. Análise da qualidade e desempenho técnico das ações no voleibol
feminino escolar. Revista Acta Brasileira do Movimento Humano, v. 5, p. 80–93, 2015.
DAÓLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos técnicos - modelo
pendular a partir das idéias de Claude Bayer. Revista Brasileira de Ciências e Movimento, v. 10, n. 4,
p. 99–103, 2002.
EOM, H. J.; SCHUTZ, R. W. Statistical analyses of volleyball team performance. Research Quarterly for
Exercise and Sport, v. 63, n. 1, p. 11–18, 1992.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL - FIVB. Refereeing-Rules. Disponível em:
<http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_VB.asp>. Acesso em: Abr. 2018.
INKINEM, V.; HÄYRINEN, M.; LINNAMO, V. Technical and tactical analysis of women’s volleyball.
Biomedical Human Kinetics, v. 5, p. 43-50, 2013.
JAMES, N.; TAYLOR, J.; STANLEY, S. Reliability procedures for categorical data in Performance
Analysis. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 7, n. 1, p. 1–11, 2007.
LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics,
v. 33, n. 1, p. 159–174, 1977.
MAIA, N.; MESQUITA, I. Estudo das zonas e eficácia da recepção em função do jogador recebedor no
voleibol sênior feminino. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 20, n. 4, p. 257–270,
MATIAS, C. J. A. D. S.; GRECO, P. J. Análise da Organização Ofensiva dos Levantadores Campeões da
Superliga de Voleibol. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 33, n. 4, p. 1007–1027, 2011a.
MATIAS, C. J. A. D. S.; GRECO, P. J. De Morgan ao voleibol moderno: O sucesso do Brasil e a
relevância do levantador. Revista Mackenzie de Educaçao Física e Eporte, v. 10, n. 2, p. 49–63,
b.
OTÁVIO, A.; FERREIRA, G. Evaluation of scoring skills and non scoring skills in the Brazilian
SuperLeague Women’s. Journal of Sports Science and Medicine, v. 5, n. 5, p. 25–31, 2016.
PALAO, J. M.; SANTOS, J.; UREÑA, A. Effect of team level on skill performance in volleyball.
International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 4, n. 2, p. 50–60, 2004.
PALAO, J. M.; MANZANARES, P.; ORTEGA, E. Design, validation, and reliability of an observation
instrument for technical and tactical actions in indoor volleyball. European Journal of Human Movement, v.34, p.75-95, 2015.
JOÃO, P. V.; MESQUITA, I.; SAMPAIO, J.; MOUTINHO, C. Análise comparativa entre o jogador libero e
os recebedores prioritários na organização ofensiva, a partir da recepção ao serviço, em voleibol. Revista
Portuguesa de Ciências do Desporto, v. 6, n. 3. 2006.
RAMOS, M. H. K. P.; NASCIMENTO, J. V.; DONEGÁ, A. L.; NOVAES, A. J.; SOUZA, R. R.; SILVA, T. J.;
LOPES, A. S. Estrutura interna das ações de levantamento das equipes finalistas da superliga masculina
de voleibol. Revista Brasileira de Ciências do Movimento, v. 12, n. 4, p. 33-37, 2004.