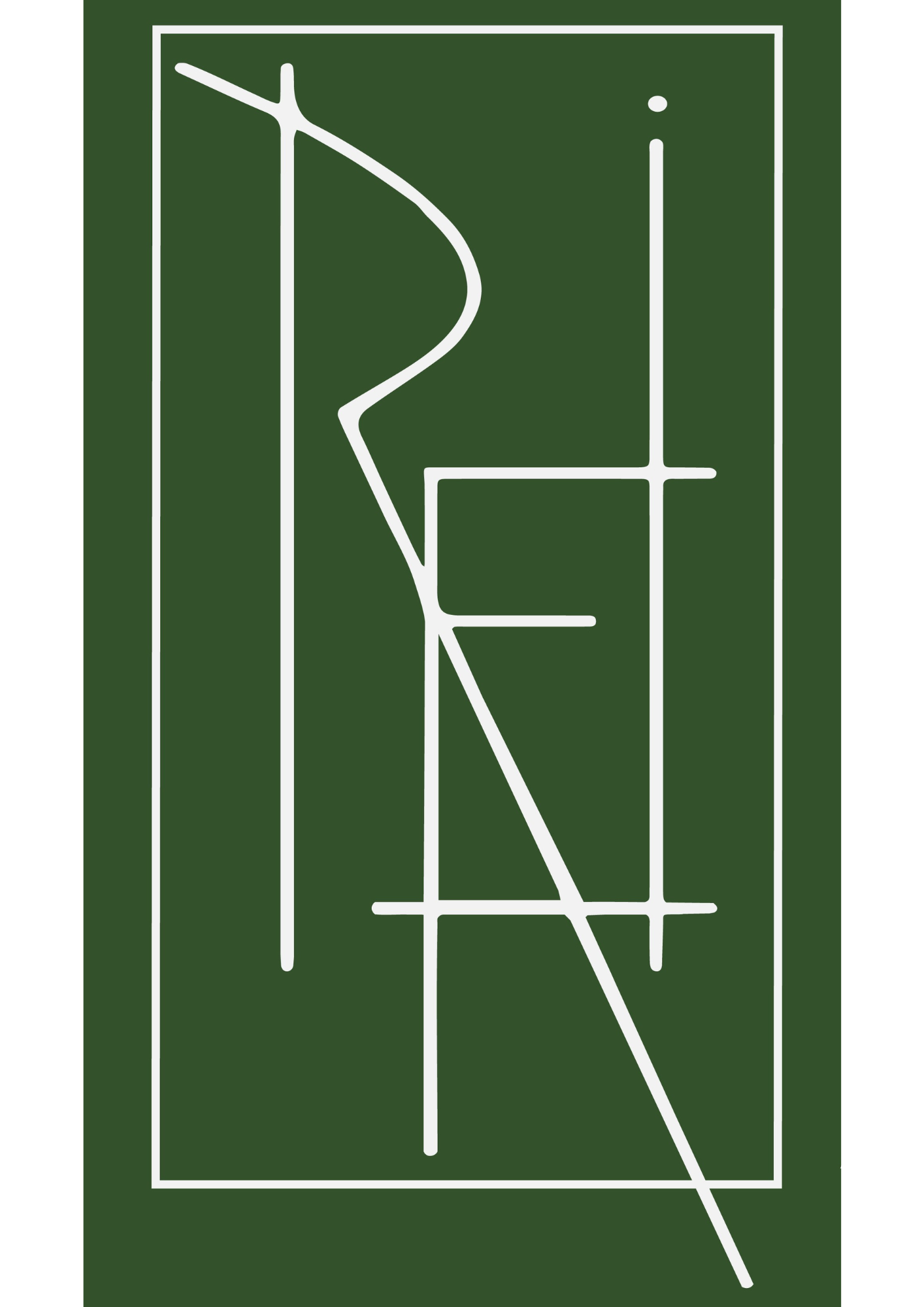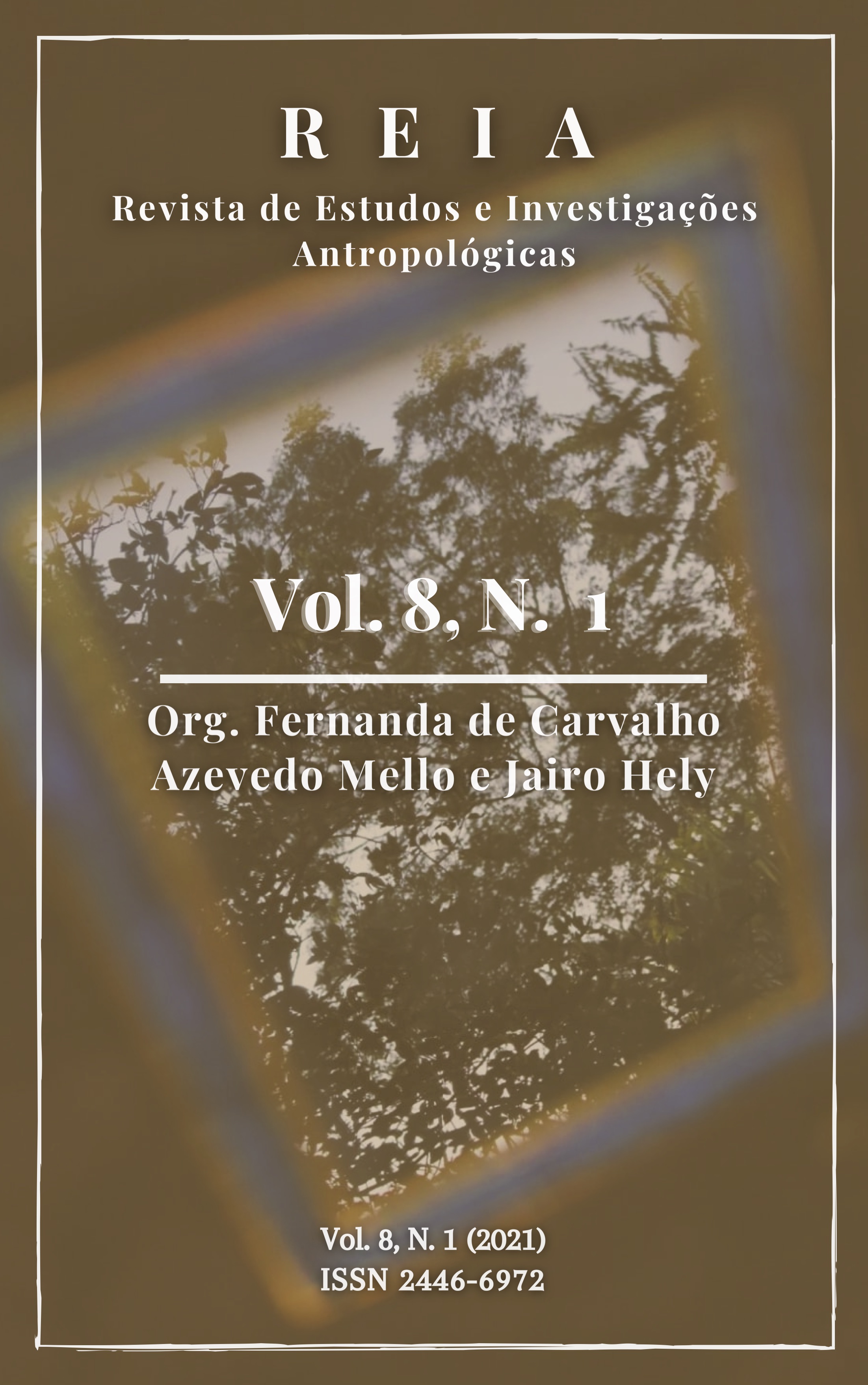Etnógrafa recém-iniciada, entre estranhamentos e alteridades: Uma análise subjetiva de uma estudante de educação no campo da antropologia
Resumo
A minha intenção é partilhar com estudantes de educação a experiência do projeto antropológico no campo educacional a partir da perspectiva de uma estudante de graduação em Educação que iniciou esta investigação com o intuito da execução de um estágio em uma escola pública de Ensino Médio, localizada em um bairro de camada popular no Estado do Rio de Janeiro, e desaguou em uma pesquisa com abordagem teórico-metodológica etnográfica. A disciplina de antropologia é obrigatória em diversos cursos de Pedagogia no Brasil, e o exercício de transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico é constante nas práticas cotidianas debatidas no curso, consonante a isso está, também, o exercício de solidificar a alteridade e a relativização nas relações construídas na escola. Existe, também, o debate, dentro do curso, de que antropologia seria uma disciplina distante do projeto pedagógico por ser - pelo entendimento do senso comum - uma disciplina mais teórica, em que a prática se torna distante da ação educativa das escolas brasileiras. Entretanto, o objetivo é mostrar a importância do olhar relativizador construído em uma futura professora através da construção de um olhar antropológico para a escola. Além disso, pretende-se registrar a partir deste as “marcas” que essa fase da pesquisa pode simbolizar para quem é iniciante na área e sobre a potência das subjetividades que o campo antropológico propõe.
Referências
BEAUD, Stéphane.; WEBER, Florence. 2014. Guia para a pesquisa de campo: Produzir e analisar dados etnográficos. 2ª ed. Petrópolis: Vozes.
BOAS, Franz. 2004. Antropologia cultural. (org.) Celso Castro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
HOLANDA, Francisco Buarque de. 2006. Álbum: Carioca. Música: Subúrbio. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 3m:24s. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZqWFlLE4vfg. Acesso em: 11 de fevereiro de 2021.
DAMATTA, Roberto. 1978. “O ofício do etnólogo. Ou como ter anthropological Blues”. Rio de Janeiro: Boletim do Museu Nacional (27). Disponível em: http://www.ppgasmn-ufrj.com/uploads/2/7/2/8/27281669/boletim_do_museu_nacional_27.pdf. Acesso em: 09 de novembro de 2020.
DAUSTER, Tania. 2004. “Entre a Antropologia e a Educação” – A produção de um diálogo imprescindível e de um conhecimento híbrido. ILHA. Florianópolis, n.1 e n.2, julho de vol 6: 197-207. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/download/16610/15272+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 09 de novembro de 2020.
Evans-Pritchard, Edward. 2005. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
FOOTE-WHYTE, William. 2005. Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
GOFFMAN, Erving. 1985. A Representação do Eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes.
GOFFMAN, Erving. 1980. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
HERTZ, Robert. 1980. A preeminência da mão direita: um estudo sobre a polaridade religiosa. Religião e Sociedade, 6: 99-128.
MALINOWSKI, Bronislaw. 1975. Objeto, método e alcance desta pesquisa. In: GUIMARÃES, Alba Zaluar (org). Desvendando Máscaras Sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora.
MAUSS, Marcel. 2017. Sociologia e Antropologia. São Paulo, Ubu Editora.
PEIRANO, Mariza. 2004. A teoria vivida. Reflexões sobre orientação em antropologia. Ilha. Revista de Antropologia, Brasília, v. 6, n.1 e 2: 209-216, Disponível em: http://dan.unb.br/images/doc/Serie349empdf.pdf . Acesso em: 09 de novembro de 2020.
PEIRANO, Mariza. 2014. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos (UFRGS. Impresso), v. 20: 377-391. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ha/v20n42/15.pdf. Acesso em: 09 de novembro de 2020.
PEIRANO, Mariza. 2002. O dito e o feito: ensaios de antropologia dos rituais. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ.
ROSISTOLATO, Rodrigo. 2018. A liberdade dos etnógrafos em educação e seu mosaico interpretativo. Revista Contemporânea de Educação, v. 13: 1-9. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/17153/pdf_1. Acesso: 12 de fevereiro de 2021.
ROSISTOLATO, Rodrigo. 2020. Gestão Escolar e Mediação Pedagógica. Campos: [s.n.], 25/09/2020. 1 vídeo (95 minutos e 43 segundos). Publicado pelo canal Ciências Sociais UFF Campos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1Pr6Zbxb7K8&t=5137s. Acesso em: 25 de setembro de 2020.
ROSISTOLATO, Rodrigo. 2021. Os crentes e a sociabilidade na infância. Afinal, quais são os seus outros?. Blog. O olhar antropológico. Rio de Janeiro, 10 de abril. Disponível em: http://rosistolato.blogspot.com/2021/04/os-crentes-e-sociabilidade-na-infancia.html?m=1. Acesso: 03 de maio de 2021.
ROSISTOLATO, Rodrigo. 2013. 'Você sabe como é, eles não estão acostumados com antropólogos!': uma análise etnográfica da formação de professores. Pró-Posições (UNICAMP. Impresso), v. 24: 41-54. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8642570 Acesso em: 09 de novembro de 2020.
SEEGER, Anthony. 1980. Os índios e nós: estudos sobre sociedades tribais brasileiras. Rio de Janeiro: Campus.
VELHO, Gilberto. 1999. Antropologia Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Direitos Autorais para textos publicados na Revista de Estudos e Investigações Antropológicas são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. No caso de submissão paralela a outro periódico, o texto em questão será excluído imediatamente do processo de avaliação e não será publicado na Revista de Estudos e Investigações Antropológicas.