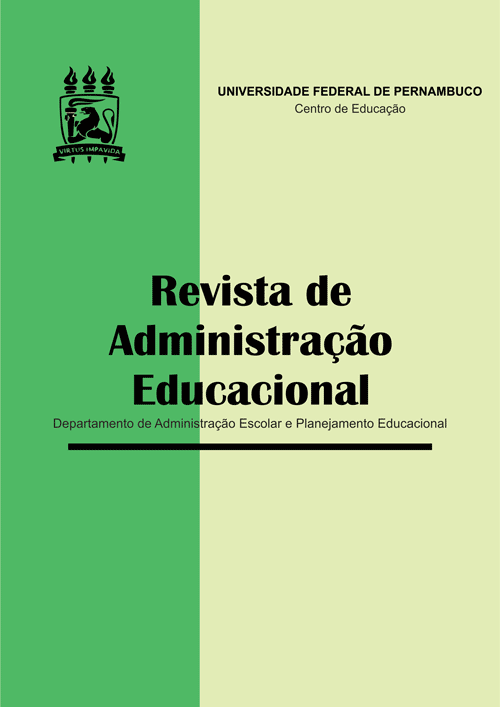PAULO FREIRE: UMA PARTICULAR EXPERIÊNCIA DO PENSAR NA EDUCAÇÃO?
Résumé
Existe uma diferença entre a filosofia da educação produzidano Brasil e a de outros países ou a sua pretensão de universalidade já a
eximiria de buscar qualquer particularidade da experiência do pensar
na educação brasileira? Diante dessa questão e dos desafios lançados
por uma constituição cultural múltipla e étnica diversificada como
a brasileira, a presente pesquisa se propôs a buscar uma resposta à
questão mencionada, ao se reconstituir histórica e filosoficamente a
gênese e o desenvolvimento na filosofia da educação no Brasil. Embora
alguns estudos tenham tentado abordar a trajetória da filosofia da
educação no Brasil desde os anos 1980, a presente pesquisa procura
oferecer outra abordagem ao assunto e de responder a pergunta
mencionada, com o objetivo: de propor um novo olhar sobre a
reconstrução histórica das manifestações da filosofia da educação
como campo de ensino, de pesquisa e de pensamento entre 1930 e
2000; de desenvolver uma análise filosófica dos momentos em que
emerge como uma experiência do pensar na educação, interpelando
a possibilidade ou não de sua particularidade; de indicar os seus
principais desafios na atualidade, discutindo a sua possibilidade
enquanto arte de superfície. Concluímos com uma resposta afirmativa
em relação à existência de uma particular experiência do pensar na
educação que, no desenvolvimento da filosofia da educação, porém,
ponderamos que tal particularidade foi se perdendo ao longo de seu
desenvolvimento no Brasil, graças à sua institucionalização, que
abandonou a proximidade de se pensar os problemas emergentes
da realidade cultural e educacional, assim como o próprio ethos do sujeito que o pensa, para se estabelecer a parâmetros supostamente
generalizantes no meio acadêmico. Ponderamos, porém, que algumas
características dessa particularidade se mantiveram na experiência
do pensar produzida por alguns filósofos e filósofos da educação que
foram capazes de criar, senão um estilo de pensar próximo à arte
de superfície, ao menos um movimento de resistência à aspiração
de uma modernização pelo alto que legitimava a posição de certa
elite intelectual, à fundamentação das teorias pedagógica em uma
antropologia filosófica e à legitimação da ação pedagógica na figura
de um intelectual universal.
Références
ALVES, C.E.R. Fernando de Azevedo na batalha do humanismo.
Marília: UNESP, 2004 (dissertação de mestrado. Orientador: Pedro
Angelo Pagni.
AZEVEDO, F. de. Na batalha do humanismo: aspirações, problemas
e perspectivas. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1950/1962.
AZENHA, J.M.P. A questão dos pressupostos do discurso pedagógico.
In: NAGLE, J. Educação e Linguagem. São Paulo: EDART, 1976,
p. 83-98.
BARROS, R. S. A ideia de universidade e a ilustração brasileira.
São Paulo: Ed. USP, 1959.
BRANDÃO, Z. A ‘inteligentsia` educacional: um percurso com Paschoal Lemme por entre as memórias e as histórias da escola
nova no Brasil. Rio de Janeiro, 1992: Tese (Doutorado) , Pontifícia
Universidade Católica..
CAPELATO, M. H. Os arautos do liberalismo: imprensa paulista
(1920-1945). São Paulo: Brasiliense, 1989.
CARVALHO, M. M. C. de. Molde nacional e fôrma cívica: higiene,
moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação
(1924-1931). São Paulo, 1986. Tese (Doutorado), Universidade de
São Paulo.
DELEUZE, G. Lógica do sentido. 4. Ed. São Paulo: Editora
Perspectiva, 2000.
FOUCAULT, M. É inútil revoltar-se? In: FOUCAULT, M. Ditos
e Escritos: Ética, sexualidade, política. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2005.
FOUCAULT, M. Os intelectuais e o poder. In: FOUCAULT, M.
Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1979, p. 69-78.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 27 ed. S. Paulo: Paz e Terra,
GADOTTI, M. Pensamento pedagógico brasileiro. São Paulo:
Ática, 1987.
MARTINS, J. & BICUDO, M.V. Estudos sobre Existencialismo,
Fenomenologia e Educação. São Paulo: Editora Moraes, 1983.
MAYER, M. H.; FITZPATRICK, E. A filosofia da educação de Sto.
Tomás de Aquino. Trad. de Leonardo Van Acker. São Paulo: Odeon,
MENDES, D. T. Anotações sobre o pensamento educacional no
Brasil. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. (Brasília), v.
, n. 160, p. 493-504, 1987.
MONARCHA, C. R. S. Reinvenção da cidade e da multidão. São
Paulo: Cortez & Autores Associados, 1990.
NAGLE, J. Educação e Linguagem. São Paulo: EDART, 1976.
PAGNI, P. A. Anísio Teixeira: experiência reflexiva e projeto
democrático – a atualidade de uma filosofia de educação. Petrópolis:
Vozes, 2008.
PAGNI, P. A. Do manifesto de 1932 à construção de um saber
pedagógico: um diálogo entre Fernando de Azevedo e Anísio
Teixeira. Ijuí: Editora UNIJUI, 2000.
PAGNI, P.A. Entre a modernidade educacional e o modernismo: um
ensaio sobre a possibilidade de uma filosofia da educação como arte
de superfície. In: SEVERINO, A.J.; ALMEIDA, C.S.; LORIERI,
M.A. (orgs.) Perspectivas da filosofia da educação. São Paulo:
Cortez, 2011, p. 150-166.
SAVIANI, D. Tendências e correntes da educação brasileira. In:
MENDES, D. T. Filosofia da educação brasileira. São Paulo:
Civilização Brasileira, 1983.
SEVERINO, A.J. A filosofia da educação no Brasil: esboço de uma
trajetória. In: GHIRALDELLI JR, P. O que é filosofia da educação?
Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2000, p. 265-326.
SILVA, M. R. L. da. Neotomismo e educação em Leonardo Van
Acker: uma aproximação entre católicos e escolanovistas nos anos
Marília: Unesp, 2004. (Dissertação de Mestrado)
TEIXEIRA, A. Educação progressiva (introdução à filosofia da
educação). São Paulo: Ed. Nacional, 1934/1950.
TOMAZETTI, E. M. Filosofia da Educação: um estudo sobre a
história da disciplina no Brasil. Ijuí: Editora Unijuí, 2003.
Téléchargements
Numéro
Rubrique
Licence
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos :- Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attributin 4.0 International (CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).